
Fascinado pelo mundo do invisível, ele entrou para a escola dos curandeiros tradicionais africanos. E acabou virando mestre.

Corpo robusto, um espírito aberto e transparente, o padre jesuíta francês Eric de Rosny, 67 anos, não transmite nem de longe a impressão de uma bandeirola que se deixa agitar pelo vento. Então como é que ele, que há quase quarenta anos se sente em casa na África, cedeu aos encantos dos "mestres da noite"? nganga, curandeiros. Que ninguém jamais os chame de feiticeiros!
Em douala, a sua língua de adoção na República dos Camarões, eles são chamados
Eric de Rosny é um apaixonado por tudo quanto possa unir povos e culturas. Por isso, entrou para a escola dos curandeiros tradicionais da etnia douala. "Um desafio de todo tamanho", ele confessa, "décadas antes do fenômeno hoje conhecido como inculturação." A crônica dessa experiência extraordinária virou assunto de um livro de enorme sucesso: "Les yeux de ma chèvre" (Os olhos da minha cabra).
Mas esse jesuíta singular tinha na cabeça mais coisas para dizer. Num segundo livro, também apaixonante e talvez ainda mais inesperado, "La nuit, les yeux ouverts" (À noite, de olhos abertos), ele conta como, tendo sido iniciado na cultura douala, acabou se tornando mestre de iniciação, tendo aberto os olhos do amigo Nkongo, porque "não podia considerar como propriedade privada tudo o que havia recebido". O seu próprio mestre tinha falecido, sem transmitir a outros o seu poder.
A entrevista a seguir foi concedida a Jean-Paul Guetny, da revista católica francesa "L'Actualité Religieuse".
SF - No seu primeiro livro, o senhor conta que o seu itinerário de vida é meio extravagante...
Eric de Rosny - Eu diria singular, não extravagante. Entrei para a Companhia de Jesus em 1949 com a esperança de ir para a China, mas as portas estavam fechadas. Os superiores respeitaram o meu desejo de ser missionário. Em 1957, com 27 anos, destinaram-me ao colégio Libermann, em Douala, no oeste da República dos Camarões.
Voltei à França, em seguida, para o curso de teologia. Também estive em Abidjan, a capital da Costa do Marfim, como diretor do Instituto Africano para o Desenvolvimento Econômico e Social (Inades). Porém, com toda sinceridade, posso garantir que o meu coração está aqui, nos Camarões, há quase quarenta anos.
Poderia ter vivido fechado nos círculos católicos. Entretanto, optou por entrar no mundo das tradições africanas. Por quê?
- Foi o desejo de compreender melhor os meus alunos. Naquele tempo, eu ensinava inglês e sofria por não saber nada do mundo de onde eles vinham. Tive que esperar treze anos para aprender uma língua local.
Um dia, encontrei uma daquelas pessoas a quem chamam erroneamente de feiticeiro. Na realidade, tratava-se de um antifeiticeiro. Era um curandeiro, um nganga. Na matriz lingüística ur-bantu, a raiz nga tem o sentido de cura, e não apenas em termos médicos. É uma palavra quase sagrada.
Diante daquele nganga, o desejo de conhecer melhor os meus estudantes desembocou num outro desejo: o do encontro, pura e simplesmente. Havia dentro de mim, se assim posso dizer, uma espécie de fascínio pelo paganismo.
Encontrou Din, un nganga. Que tipo de pessoa ele era?
- Fui encontrá-lo, uma tarde, na casa dele. Estava curando uma pessoa. Entendi imediatamente que, para os nganga, o ser humano é constituído de um corpo visível e de um invisível, de uma energia vital que, às vezes, abandona a sua moradia.
Na época, Din tinha 50 anos. Era um homem próximo ao fim. Sim, porque a arte do nganga faz morrer cedo. Mantém a pessoa num estado constante de tensão, de agressividade, de luta. É necessário combater os que querem a morte do seu paciente.
Din era um personagem complexo, um dançarino extraordinário. Tinha a beleza de um brilho selvagem. Era um homem duro, que se embriagava por necessidade, que era obrigado a se drogar durante as longas e difíceis sessões de cura. Era cristão e polígamo.
Até não muito tempo atrás, pelo menos até o Concílio Vaticano II, o nganga era rejeitado pela Igreja, que o considerava bastião da religião tradicional. Pior: era identificado com o feiticeiro. O que acontece, porém, é que o nganga passa a vida inteira tentando arrancar as pessoas das garras do feiticeiro.
Como distinguir um feiticeiro de um nganga?
- Para mim, o feiticeiro é um antinganga. Ele se esconde, não quer que as suas ações sejam vistas, trabalha durante a noite. É malvado. O nganga, ao contrário, tem a sua casa e todo mundo pode encontrá-lo. Ele abre a porta a todos, rechaçando, evidentemente, os que considera feiticeiros. Além disso, para se tornar nganga, faz-se necessário um longo período de aprendizagem. Fala-se em sete anos de formação, mas o número 7, nos Camarões, tem uma função simbólica: representa um tempo muito longo. O mestre destila o seu saber gota a gota.
Din lhe "abriu os olhos". Qual o verdadeiro significado dessa expressão?
- Segundo a visão africana, uma criança nasce com quatro olhos: dois estão abertos e dois, fechados. No momento da morte, os olhos fechados substituem os outros dois olhos. É um modo muito profundo de expressar a realidade. As sociedades africanas não falam de morte, e sim de passagem. A passagem do mundo dos antepassados ao mundo dos viventes, e vice-versa.
Se uma criança nasce com os quatro olhos abertos, vive como se estivesse ainda no mundo dos antepassados. Os pais se assustam, porque o filho tem visões. É preciso levá-lo a um especialista, para que feche os olhos místicos, digamos assim, até o momento da morte.
Em todo caso, à parte essas exceções, a sociedade precisa de videntes, sentinelas, guardiões, protetores. Precisa de gente capaz de captar os pensamentos assassinos que as pessoas nutrem umas para com as outras.
O que significa ver, para os nganga?
- É difícil responder. Quando pratico a arte dessa dupla visão com as pessoas que chegam para me confiar os seus sofrimentos, me ocorre o seguinte: de repente, percebo uma imagem que não tem a ver com a pessoa que está diante de mim. É como um piscar de olhos, como uma advertência. Não é preciso atribuir a essa espécie de flashes maior importância do que merecem.
Todos nós, guardado no nosso mundo interior, possuímos um tesouro incrível de imagens, um tesouro tantas vezes inexplorado. Alguns de nós recebemos do grupo a incumbência de abrir, digamos assim, as comportas para permitir à corrente que escorra.
Pessoalmente, considero-me discípulo de duas escolas. A dos nganga tradicionais, eu freqüentei como adulto. Mas eu tinha os olhos abertos também quando, como religioso jovem, o nosso padre mestre nos ensinava a visualizar o Evangelho, segundo o método de Santo Inácio. É o que o nosso fundador chama de "visão imaginativa". Redescobri esse tipo de oração graças às pessoas que vêm me encontrar. Aprendi a liberar o meu olhar.
No seu último livro, o senhor explica que é mais um ngambi que um nganga. Pode esclarecer isso melhor?
- O ngambi é um adivinho, o que faz a diagnose. Depois, manda o paciente ao nganga para a cura. Há os que possuem os dois poderes. Eu, não.
Qual é mesmo o poder do nganga?
- Trata-se de algo recebido. Nenhum nganga dirá que tomou a decisão de ser nganga. São os outros que decidem por ele. Mas é preciso que essa decisão seja ratificada por um sinal religioso, normalmente uma visão. Prefiro falar de sinal sagrado. De resto, tem o fato de que a sociedade inteira necessita de médicos. Com certeza, para se curar, os africanos não tiveram que esperar pela chegada dos europeus com os seus hospitais.
Os nganga fazem uso de plantas tradicionais. Há quem acha que esses remédios não valem nada...
- Na minha visão, os remédios extraídos das plantas têm uma eficácia de 50 por cento. O resto depende dos ritos. Um grupo de especialistas da tradição, do qual faço parte, recolheu durante quinze anos as receitas dos nganga. Conseguimos identificar 405 plantas e raízes que possuem valor medicinal. Sozinhas ou combinadas, são úteis para algo em torno de 2.500 prescricões médicas.
A medicina tradicional africana não é de um efeito imediato, como a dos hospitais. É mais complexa. Ajuda o corpo a se defender.
O senhor escreveu que Douala é uma cidade consumida pelo desejo incurável de curar.
- Todas as religiões tradicionais africanas possuem um caráter terapêutico. Também Jesus curou muita gente. Um terço dos evangelhos fala de curas. O episódio da mulher que sofria de perda contínua de sangue (Mc 5,23-34) sempre me seduziu. No momento em que ela toca Cristo, ele "percebe que uma força tinha saído dele".
Jesus, porém, quando se dá conta de que as pessoas querem transformá-lo num mero curandeiro, foge para as montanhas, atravessa o lago para rezar ao Pai. A salvação trazida por Jesus abraça uma realidade muito mais ampla que a simples cura da doença. Entretanto, considero uma boa coisa, depois de ter falado tanto de salvação e pouco de cura, restabelecer o equilíbrio.
Ninguém jamais o reprovou por essa aproximação com o "paganismo"?
- Tenho sido prudente para não chocar os cristãos mais idosos, formados de acordo com um catecismo mais rigoroso. Sempre fiz tudo com prévia autorização do meu superior provincial, calculando os riscos, os possíveis escândalos, os perigos.
No momento da iniciação de Nkongo, eu me perguntei: "Qual a dose correta do suco que devo lhe jogar nos olhos?". Fiz eu mesmo a experiência, de forma a sentir o mesmo que senti durante a minha iniciação. Isso não me impediu de pegar uma forte conjuntivite. Imagine se eu tivesse cegado um pai de sete filhos! No final deu tudo certo. Nkongo é hoje um nganga. Jamais lhe perguntei se ele "vê". São coisas que não se perguntam.
O senhor tem se irritado freqüentemente diante das pessoas que insistem em apresentar de maneira pessimista a realidade africana. O célebre livro de René Dumont diz que "A África negra começou mal". O senhor não concorda?
- Começou mal politicamente. Começou mal economicamente. Mas o povo africano continua estranhamente sadio e surpreendentemente tolerante. A sua força reside na capacidade de viver o momento presente, aconteça o que acontecer.
Alguém chega para dizer que o pai está morre não morre. Ou que o filho foi expulso da escola porque não tinha dinheiro para os exames. Conta tudo, e, não passam mais de três minutos, já dá uma bela de uma risada.
É isso que caracteriza os africanos e os salva da depressão: a capacidade de esquecer por um momento a miséria para dar uma saudável risada, para passar um minuto de alegria com os amigos, com a ajuda de uma cerveja, uma castanha, uma fruta.
Nunca vi nada de semelhante nas sociedades ocidentais, onde o sofrimento parece que obedece a um programa.
Para maiores informações, ou para receber os textos completos, faça contato com:
Colaboração da:
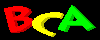 |
Biblioteca Comboniana Afro-brasileira. E-mail: comboni@ongba.org.br |