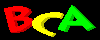Ruindade tipo exportação
A indústria de beneficiamento de castanha de caju é a primeira no ranking de exportações do Estado do Ceará, o maior produtor, que divide com Piauí e Rio Grande do Norte a concentração de toda a produção nacional. Em 95, a safra cearense apresentou um dos melhores resultados dos últimos anos, com a exportação de quase 29 mil toneladas, totalizando cerca de 130 milhões de reais. Mas não houve qualquer aumento no ganho das operárias do setor.
Os empresários pagam no máximo 45 centavos de real pelo quilo de castanha em estado bruto e precisam de 5 quilos para produzir um de amêndoa, como declaram ao Ministério da Indústria e Comércio. No final do processo, pagando salários de menos de um mínimo e meio, conseguem exportar o quilo da amêndoa a 4,59 reais, aproximadamente. Isso sem levar em conta que várias empresas têm o seu próprio cultivo, o que barateia em muito os custos de produção.
As vantagens são muitas, mas o operariado, força motriz, ainda é tratado de forma desumana em muitas empresas, denuncia Luciano Ferreira, 27 anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias de Doces e Conservas do Ceará (Sindicast).
Fundado em 1988, hoje o Sindicast presta serviços a mais de 20 mil operários da indústria da castanha no Estado do Ceará. A maioria, porém, só entra em contato com o sindicato na hora de conferir as contas, em caso de demissão, ou quando o sindicato se faz presente na porta da fábrica. Os poucos operários sindicalizados e atuantes têm sofrido retaliação por parte dos patrões.
Maria Aparecida de Mesquita, 36 anos, é uma dessas forças de resistência em favor da categoria. Delegada sindical, passou quinze dias a serviço do sindicato e retornou ao trabalho na Procaju Industrial Ltda. "Quando voltei, eles já me conheciam e começaram a me perseguir", ela conta. Chamada várias vezes à gerência, foi proposto a ela que escolhesse entre cuidar do banheiro e do vestuário, varrer o pátio ou lavar monoblocos (embalagens plásticas), fora da linha de produção. Aparecida recusou. Disse que não aceitava ser pressionada.
Depois de muita discussão, o caso foi parar na Delegacia Regional do Trabalho, onde ficou resolvido que ela trabalharia no setor de corte, com outras quinze mulheres. Recentemente, acusada de incentivar a paralisação de um grupo de trabalhadores, foi despedida por justa causa. O patrão disse que ela fosse procurar os direitos na Justiça.
|