

Professor de teologia na Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, o padre Maurice Cheza, 60 anos, tem o coração na África. Ou, mais precisamente, no Zaire, onde trabalhou por mais de vinte anos. Uma paixão que desabrochou nos tempos de seminário, quando ouvia falar dos movimentos de resistência do povo africano contra o colonialismo europeu, das lutas pela independência...
Ordenado sacerdote em 1959 pela diocese de Namur, Cheza foi logo enviado para o Zaire. No longo período que passou por lá, pôde conhecer de perto os costumes do povo, sentar ao redor do fogo e ouvir histórias, lendas e ensinamentos transmitidos de geração em geração. Ele incentivou a formação das chamadas Pequenas Comunidades de Base e ajudou outros grupos a se comprometer com as causas populares. "Os leigos querem uma Igreja mais africana e libertadora", diz. SF - Como o senhor vê o povo africano?
Uma rica experiência e contínuos estudos fizeram de Cheza um especialista em questões africanas e diálogo inter-religioso. Em abril de 1994, durante o Sínodo para a África, realizado em Roma, assessorou bispos africanos e participou de debates. Juntamente com teólogos africanos, assinou um documento de protesto contra a forma como o Sínodo tinha sido encaminhado.
Em meados de setembro, Cheza esteve no Brasil, onde participou de um seminário internacional organizado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, com o tema: "O simbólico e o diabólico na religião, história e política". Na entrevista a SEM FRONTEIRAS, ele defende que o maior desafio atual para a Igreja africana é o de se colocar do lado dos pobres, assumindo assim a própria dimensão profética.
Maurice Cheza – É impossível falar da África ou do povo africano de forma geral. Existem diferentes Áfricas dentro de um mesmo continente. Há uma África Central, com a qual sou mais familiarizado, pois trabalhei por mais de vinte anos no Zaire. Mas existe também a África do Norte, que foi fortemente islamizada. Do ponto de vista político, temos a África do Sul, que conheceu um outro caminho rumo à democracia. Portanto, quando se fala da África, não se deve esquecer essa grande diversidade, do ponto de vista cultural, religioso, social e político.Que tal a sua experiência no Zaire?
– O Zaire é um dos países da África negra que recebeu o cristianismo de maneira muito violenta. Os primeiros missionários católicos acreditaram muito rapidamente que a África negra se tornaria cristã, por causa do grande número de batizados. A preocupação número um era ministrar sacramentos, e também ganhar terreno em relação aos protestantes.E os africanos, o que achavam disso?
– Eles não viam contradição entre o cristianismo e os cultos tradicionais que praticavam. O povo não muda de convicção simplesmente porque um estrangeiro traz uma bicicleta, um livro, ou constrói uma escola. No fundo, o povo continuou muito preso àquilo em que os antepassados acreditavam e que transmitiram, ou seja, às crenças tradicionais. Os missionários ignoraram isso.Em que o africano mais acredita?
– Fundamentalmente, o africano acredita na força da vida que se transmite de geração em geração. É algo que vem dos ancestrais e que deve ser transmitido aos filhos.Mais ou menos o que chamamos de "axé" no Brasil?
– Talvez. Em toda a África existe a crença nessa força fundamental.Poderíamos chamar essa "força vital" de Espírito Santo?
– Não creio. Deveríamos evitar comparações. A gente tem sempre a mania de batizar as coisas africanas. Há uma força vital na comunidade, que está presente e que dá sentido à existência do povo africano. Se quisermos realmente usar um termo mais cristão, poderíamos chamar isso de "graça", enquanto força que vem de Deus.Qual o tipo de atuação dos anciãos na comunidade?
– Eles ocupam um lugar central no clã. Um estrangeiro que desconhece a cultura africana é levado a pensar que os africanos são muito monárquicos: existe um chefe, e todo mundo obedece de joelhos. Porém, segundo a tradição, o chefe governa juntamente com um conselho de anciãos, que se reúne constantemente. Infelizmente, hoje vemos chefes africanos – na política e também na Igreja – que se fizeram "solitários". Querem governar sozinhos. Isso é um desvio no conceito africano tradicional de autoridade.Como são resolvidos os conflitos internos da comunidade?
– O conflito deve ser resolvido através de longas e demoradas reuniões. O que é altamente positivo, porque trata-se de um instrumento coletivo para se chegar a um consenso, de modo que nenhum membro fique de mal com o outro. Então, na hora da conversa, não se pode dizer que fulano é imbecil ou que cicrano é ladrão. Utilizam-se histórias, parábolas e provérbios para ajudar a comunidade a compreender o problema em questão. Isso leva ao consenso.Que tipo de questões se discute nessas reuniões?
– Basicamente, as questões que ameaçam a unidade do grupo. Isso está ligado a outro aspecto importante da cultura africana, que é o da totalidade da vida. No Ocidente, temos uma visão toda fragmentada da pessoa. Quer um exemplo? No campo da medicina, temos um especialista para cuidar de cada parte do corpo: estômago, pés, cabeça... Para o africano, as coisas estão sempre juntas, formando um todo. Uma dor de cabeça, por exemplo, tem a ver com o que acontece na tribo. Tudo está interligado. Não é simplesmente uma dor de cabeça minha. O grupo inteiro está sendo atingido pelo mal.Os antepassados, a força de vida... O que mais é importante para o africano?
– A palavra é outro elemento muito importante. Os africanos investiram muito na gestão da palavra, enquanto os ocidentais pensaram mais na questão da técnica. Os africanos não inventaram a roda, mas ficaram muito próximos da natureza, trabalharam muito a questão das relações humanas e a da gestão da palavra.Quando se fala em palavra, entende-se também a música...
– Claro, palavra e música estão muito unidas. Não se pode falar de música, porém, esquecendo a dança, o corpo. Todas as forças de vida – isso não é só da Africa – são partilhadas pela comunidade, inclusive em comunhão com a vida da floresta.A urbanização está pondo em risco esse modo de ver a vida?
– A questão principal não é como transformar um povoado do interior numa cidade, e sim como viver numa cidade sem essa divisão entre ricos e pobres. Como os fracos vão encontrar formas de resistência diante dessa placa de chumbo que cai em cima de suas cabeças e que os oprime. É preciso encontrar caminhos novos para que o rico não pisoteie o pobre.Em sua opinião, qual é hoje o grande desafio para a Igreja na África?
– Jesus instaurou o Reino libertando os cativos. É assim que se revela a autêntica imagem de Deus: no meio dos pobres, dos doentes, dos desvalidos. O mais importante, no cristianismo, é a vida. O anúncio que se faz de Jesus Cristo está a serviço da vida ou da dominação? É essa a questão que a Igreja na África deve se colocar. Aconteceu muitas vezes – e pode sempre acontecer – que o anúncio do Reino esteve carregado de ambigüidade, servindo de instrumento de dominação.Como o senhor avalia o último documento do papa, "Ecclesiae in Africa", e os documentos lançados por várias Igrejas locais do continente após o Sínodo africano?
– A palavra deve ser ativa, senão vira alienação. O Evangelho não está cheio do que Jesus disse, mas do que ele fez. A Igreja fala demais. Deveria falar menos e agir mais. Constato com prazer, no entanto, que existem boas cartas pastorais dos bispos africanos. Mas os leigos reclamam que os bispos escrevem muito e praticam pouco. Esse é o grande drama de toda a Igreja, na África e também nos outros continentes.Recentemente foi assassinado o arcebispo do Burundi. Isso não prova que os bispos estão assumindo a sua missão até às últimas conseqüências?
– Conheci Joaquim Ruhuna pessoalmente, e confesso que não conheço as circunstâncias da sua morte. É claro que também existem profetas no episcopado africano. Mas quero insistir na caminhada das Pequenas Comunidades Cristãs, espalhadas por todo o continente. Em fevereiro de 1992, em Kinshasa, capital do Zaire, elas encabeçaram diversas manifestações contra o ditador Mobutu. Foi algo muito profético. Esses grupos de base são a esperança para o futuro da Igreja na África.A maioria do povo brasileiro tem raízes na África. Por que os meios de comunicação, em geral, falam tão pouco desse continente?
– O que vejo é que há uma certa vergonha, racista e permanente, em relação à África. Isso existe no mundo inteiro. O Brasil é um país marcado pelo progresso da técnica. No entanto, é muito dependente dos países mais ricos. Quer crescer olhando para o Primeiro Mundo, espelhando-se nos Estados Unidos e em países europeus. Não olha para a África, porque existe preconceito em relação a esse continente, que é visto como coisa do passado, primitivo. Há um certo racismo em tudo isso. Um racismo que gruda na pele de muitos brancos, tanto europeus quanto brasileiros.O que a África tem a nos ensinar?
– Os elementos humanísticos de que falei antes. E também, por exemplo, a música, a dança. Os imigrantes africanos que vão para a Europa ficam decepcionados com a liturgia católica, que é muito parada, muito fria. As celebrações africanas têm mais vida, são mais alegres. No rito zairense, por exemplo, o povo passa toda a celebração dançando e não se cansa.A Cúria romana não aprovou a Missa dos Quilombos, do Brasil, enquanto, na África, deu sinal verde para o rito zairense. Por quê?
– Acho que devemos fazer mais, e não ficar sempre esperando ou se perguntando se o papa vai permitir ou não. A gente tem mais é que fazer.A África vai conseguir se salvar dos planos de ajuste econômico que estão sendo implantados em vários países do continente?
– Creio que sim. Acredito que a África pode oferecer algo de novo, pela sua paciência, pela sua crítica à modernidade como rolo compressor.
Para maiores informações, ou para receber os textos completos, faça contato com:
Colaboração da:
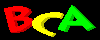 |
Biblioteca Comboniana Afro-brasileira. E-mail: comboni@ongba.org.br |