
Mais de trinta anos de barraca em barraca com o povo cigano: na Itália, no Brasil, e agora no Bangladesh. Missão amizade, missão respeito.
O italiano Renato Rosso, 51 anos, sacerdote católico, pode falar horas e mais horas, dias inteiros, das muitas coisas que viu e viveu junto ao povo cigano. E com que empolgação e alegria ele fala de tudo isso!
Afinal, são mais de trinta anos: na Itália, já antes de ser ordenado sacerdote, em 1972, e também depois. No Brasil, de 1984 a 1992, e agora no Bangladesh, país do centro-sul da Ásia, 120 milhões de habitantes, onde o islamismo é oficial, uns 10 milhões são hinduístas, e os cristãos não devem passar muito de 30 mil.
Perguntamos que lembranças ele guarda de todo esse tempo. A resposta, em resumo: "Lembro-me do rosto de cada uma das pessoas que conheci, da vida de cada dia. São milhares de momentos lindos, preciosos. Talvez algum dia eu me esqueça desses rostos, mas de certa forma todos eles fazem parte da minha vida. Sou o conjunto de todos eles, das coisas que me disseram, do carinho com que me acolheram".
Missão junto aos marginalizados, na Europa, aqui e também na Ásia. Mas, também, missão junto a um povo que insiste, com todo direito, em ser diferente. Um povo rico, em tantos sentidos.
É mais o que leva ou é mais o que recebe o missionário?
Renato não pensa tanto nesses termos. Porque o que o missionário às vezes pensa em levar, o Espírito de Deus tantas vezes já plantou no coração, na cultura, na religião do povo que acolhe o missionário. Respeitar, conviver e descobrir juntos os caminhos da autenticidade, do amor e da misericórdia, são valores em que Renato sempre acreditou. Cem vidas ele daria para viver a alegria de sua entrega ao povo cigano.
A história da Pastoral dos Nômades no Brasil deve muito a ele. Foi um dos iniciadores. Mas nega que tenha sido pioneiro: "A Pastoral dos Nômades começou de verdade com pessoas anônimas, com os pobres, com famílias e comunidades que souberam acolher os ciganos, falar de Jesus para eles". Renato lembra as Irmãs de Charles de Foucauld, elas sim pioneiras de uma pastoral organizada. Lembra tantos outros, padres, seminaristas, leigos.
Para explicar a vida de cigano que leva, Renato conta um fato. Foi em Turim, Itália, logo no começo. Num domingo de manhã, encontrou uma família de ciganos na porta da igreja, esperando a missa acabar. Queriam rezar, mas só depois da missa. "Na igreja, não encontravam ninguém do mundo deles, nada da sua realidade, nada do acampamento. Sentiam-se estranhos."
Foi aí que Renato se convenceu de que não bastava chegar perto, visitar os ciganos. Continuaria sendo um estrangeiro.
De volta ao Brasil para uma rápida visita, participou da assembléia da Pastoral dos Nômades, em julho, esteve com grupos ciganos, juntou fotografias e material para mostrar aos irmãos ciganos do distante Bangladesh, e reservou um tempo para uma conversa com SEM FRONTEIRAS, da qual reproduzimos alguns trechos.
Sem Fronteiras – Como foi que o senhor deixou o Brasil para trabalhar com os ciganos do Bangladesh?
Renato Rosso – Foi simples. Um irmão da congregação da madre Teresa de Calcutá contou que eles queriam abrir uma comunidade entre os ciganos. Só que eles não conheciam a realidade desse povo. Então, em 1990, fui lá para ver se era possível iniciar um trabalho mais ou menos parecido com o que fazíamos no Brasil.
E o que foi que o senhor viu? – Logo nos primeiros dias, conheci um grupo de nômades, os Kaura, criadores de porcos. Ora, na visão religiosa do povo de lá, o porco é um animal impuro, e quem cria porcos é mais impuro ainda. Por isso, quando os Kaura, por exemplo, passam por uma estrada, as pessoas atiram coisas contra eles, pedaços de tijolos, paus. É como para dizer que, diante de Deus, não são culpadas de passar perto desses nômades impuros ou de pisar em cima da sombra deles.
Isso me marcou muito. Fiquei imaginando que poderia viver com esses criadores de porcos. Regressei ao Brasil, depois de um mês, e, em 1992, fiz as malas e fui morar no Bangladesh. Fiquei conhecendo também outros grupos, e passei a viver com os Baid, que moram em barcos. São mais ou menos umas 400 mil pessoas.
Como foi esse começo de vida nova? – O primeiro passo foi aprender a língua deles, o bengali. A principal diferença, em relação ao Brasil, é que, no Bangladesh, não posso fazer um trabalho de evangelização explícita. Não é permitido, porque o país é muçulmano.
Pedi a eles que me deixassem rezar em suas mesquitas. Rezaria para que eu, como cristão, e eles, como muçulmanos, fôssemos autênticos. Não fazia mal eu não ter uma igreja. Rezaria na minha própria casa.
E como é essa casa? – A minha casa é um barco igual aos deles, que divido com uma família de ciganos muçulmanos, o casal e quatro filhos. Quando não estou junto com o grupo, o barco continua viajando. Conheci essa família quando tive que socorrer um dos filhos, que quase morria de tétano. Conseguimos salvá-lo, e isso foi a minha porta de entrada no mundo dos Baid. A família fala o bengali, que é a língua nacional. Depois, os ciganos tem também muitos outros dialetos.
Que tipo de trabalho fazem os Baid? – Eles vivem basicamente da pesca. As mulheres são consideradas uma espécie de médicas do povo pobre. Trabalham com instrumentos muito simples. O mais conhecido é o chifre de boi. Elas o apóiam sobre a parte dolorida do corpo da pessoa e, com a boca, "sugam" a dor. Isso provoca um certo alívio. Por esse trabalho, recebem alguns trocados.
Um padre católico morando num barco, junto com uma família muçulmana. O senhor não se acha meio maluco? – Pode ser. Mas eu não deixo de ser padre por isso. Certo que não posso exercer o meu ministério de forma explicita, como disse, porque é proibido. Mas posso conviver com eles. Posso procurar, junto com eles, um caminho de maior misericórdia, de amor uns para com os outros. Para que todos nos tornemos mais homens, mais mulheres, mais filhos de Deus. A minha motivação fundamental é estar junto com eles. É suficiente.
E eles acham isso interessante? – Sim. O primeiro trabalho é ajudá-los a redescobrir a própria identidade, porque é comum dizerem que não valem nada, que não são ninguém. Sentem-se marginalizados pelo resto da população.
No início, acompanhei um grupo semi-sedentário. Arranjei uma barraquinha para viver junto com eles. Depois vieram viver junto comigo dois cristãos não-ciganos do país, um médico e o diretor de uma organização não-governamental. Em seguida veio um professor. Eu sugeri a ele que, antes de começar a dar aulas, era melhor passar uns meses pescando com o pessoal.
Ele aceitou a proposta? – Sim. E os ciganos gostaram de ver que aquele que queria dar aulas pescava com eles, vivia como eles. E que também o médico, que curava as suas crianças, morava, comia e pescava como eles. Sentem-se valorizados. Descobrem que são gente, que têm valor. Este é o trabalho mais importante: levantar a identidade deles. Essa é a escola que queremos, não só a que ensina ler e escrever. Uma escola que faz o cigano descobrir e valorizar quem ele é.
O senhor gosta muito desse trabalho, não é verdade? Uma espécie de paixão, de vício? – É um pouco de tudo isso. Se tivesse cem vidas, acho que dedicaria todas elas a fazer a mesma coisa. Simplesmente, eu me tornei amigo dos ciganos, desde antes de ser ordenado sacerdote. Descobri que, para trabalhar com eles de maneira mais autêntica, eu devia viver junto com eles. Não bastava visitá-los. Sempre seria alguém de fora, um estrangeiro.
Mas, mesmo assim, os ciganos não o identificam como estrangeiro? – Sim, como estrangeiro, ocidental e cristão. Isso, no começo, dificulta muito. Mas depois, quando a amizade se torna profunda, verdadeira, essa barreira vai caindo. O que é fundamental, no diálogo com os muçulmanos, é a amizade. Já fiz muitas experiências bonitas de comunhão.
Quer dizer, não existe aquela atitude de querer converter todos ao cristianismo... – Na Itália e no Brasil era diferente, porque os ciganos são cristãos. No Bangladesh, trabalho dessa forma anônima. Procuro ajudar muçulmanos e hinduístas a viverem autenticamente a sua própria fé, a descobrir o sentido profundo das leituras que fazem. Nas missas que celebro, de madrugada, em minha barraca, rezo por todos eles, agradeço a Deus por eles. Sinto-me como uma espécie de ponte entre eles e Deus. É assim que vivo o meu ministério de sacerdote.
O senhor se considera um homem sem fronteiras? – Sou missionário, pelo menos isso. Em relação às fronteiras, vejo que não é uma questão puramente geográfica. Há muitas fronteiras, em toda parte. As fronteiras estão também dentro da nossa própria casa, em nós mesmos, e é preciso ultrapassá-las.
O padre Renato virou cigano? - Eu me sinto cigano, sim. Às vezes sinto-me mais cigano do que muitos ciganos. Sabe como é: depois de 24 anos vivendo com eles, a gente assimila muita coisa. Agora, ser cigano de verdade é algo muito mais profundo. Um não-cigano nunca vai chegar lá.
Gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos leitores? – Nunca fechar as portas aos ciganos, um povo que quer viver, e de uma forma diferente. Seria muito fácil fazer projetos para amarrá-los, querer "civilizá-los". Acontece que eles são civilizados, têm dignidade, cultura, história. Amarrar os ciganos – como se tenta fazer com os indígenas – não seria bom, nem para eles nem para a sociedade brasileira. Eles têm que continuar vivendo a vida deles. O que eu posso fazer é ser companheiro e amigo deles.
O senhor sente saudades do Brasil? – Todo mundo que trabalhou no Brasil sente saudades do país, do povo daqui. O que me consola é ter encontrado outros Brasis por aí afora.
Para maiores informações, ou para receber os textos completos, faça contato com:
Colaboração da:
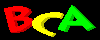 |
Biblioteca Comboniana Afro-brasileira. E-mail: comboni@ongba.org.br |