|
| 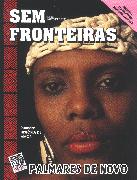
|
300 anos de resistência
O Axé de Zumbi
O tricentenário da morte-assassinato do líder máximo dos Palmares (1695-1995) lembra a utopia negra de ontem e convoca para a festa futura da liberdade e da cidadania a conquistar.
NAS ÁGUAS DO RIO DAS RÃSO axé de Zumbi vai embalando a longa vida de Seu Chico Tomé, da comunidade remanescente de quilombo de Rio das Rãs. Aos 101 anos, embora com alguns sinais de cansaço no corpo franzino, Seu Chico tem uma memória que é uma beleza. Casado pela terceira vez, depois da morte das duas primeiras mulheres, ele lançou raízes fortes na terra de seus antepassados: são dezessete filhos, mais de cem netos e tantos tataranetos que já perdeu a conta. Na comunidade, ele é respeitado. Madeira boa que vento não derruba. Aos mais jovens, conta histórias do tempo em que os negros de seu quilombo levavam vida mais farta e tranqüila. Possuíam cabras, ovelhas e gado e não tinham medo das ameaças dos grileiros.
Seu Chico Tomé nasceu, se criou e quer morrer na comunidade da área do Rio das Rãs, um dos afluentes da margem direita do rio São Francisco, a 80 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Nunca arredou pé de lá, nem mesmo quando o latifundiário Carlos Newton Vasconcelos Bonfim, usando escrituras falsas, tentou se apossar da fazenda com 23 mil hectares, dos quais 15 a 20 mil pertencentes ao quilombo.
O conflito entre remanescentes e grileiro começou em 1980. Em 1993, depois de muita violência, a área foi reconhecida oficialmente pelo governo. Em janeiro deste ano, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto de desapropriação da fazenda de Carlos Bonfim para fins de reforma agrária.
A desapropriação, contudo, não contemplou a área remanescente de quilombos. Organizadas, as trezentas famílias de Rio das Rãs conseguiram suspender o decreto. Foi constituída em Brasília uma comissão composta por membros dos Ministérios da Agricultura e da Cultura, que deve encaminhar um novo decreto reconhecendo as terras do quilombo. Seu Chico Tomé ainda sonha com a papelada, conforme manda a Constituição, que garante que o Estado deve reconhecer a propriedade e emitir os respectivos títulos de posse para os remanescentes.
(Bernardete Toneto e Paulo Lima, pág. 13)Além de Benedita da Silva (PT/RJ), mais conhecida, os negros têm no Congresso uma outra grande aliada. Marina da Silva (PT/AC), aos 36 anos e caçula no Senado Federal, defende a criação de uma comissão parlamentar para analisar a situação do negro no país.
Marina, de fala mansa e aparência frágil, vê no Legislativo uma ponte para mudar o comportamento racista da sociedade. Quer que as crianças negras tenham acesso ao estudo. Ela fala com conhecimento de causa: filha de negra com português que tiveram mais dez filhos, desde menina começou a ajudar o pai na extração da borracha. Só aos 14 anos aprendeu, com o pai e o avô, a ver as horas no relógio, contar dinheiro e fazer as quatro operações matemáticas. As primeiras letras, conheceu olhando revistas. Aos 15 anos, Marina quase morreu, vítima de três hepatites e cinco malárias. Sobreviveu com a ajuda de ervas medicinais. Foi para Rio Branco trabalhar como empregada doméstica. Entrou no Mobral. Mais tarde, depois de sete anos de escola, formou-se em História pela Universidade Federal do Acre. Das Comunidades Eclesiais de Base pulou para a militância política e, em seis anos, foi a vereadora, deputada estadual e senadora mais votada no seu Estado. "Infelizmente, a maioria dos negros não tem as oportunidades que eu tive."
Hoje, Maria Osmarina Silva de Souza, como está na certidão de nascimento, se diverte ao dar entrevistas e contar sua história. Mas não achou nenhuma graça quando, no começo do ano, marcou uma entrevista com um jornalista do Rio Grande do Sul, "tão branquinho que até parecia mármore". O repórter não a conhecia e, ao vê-la, se surpreendeu com a pele morena e os longos cabelos cacheados. "Disseram pra ele que eu era negra. Ele esperava que eu fosse igual à Benedita... Me chamou de negra pelega." Cai na risada e logo fica séria: "Sou negra, igual a tantos seringueiros do Acre, que sofrem o pior tipo de preconceito, que é o preconceito social".
É contra os preconceitos racial e social que a jovem senadora está lutando. Casada pela segunda vez, quatro filhos, Marina acha necessário implementar políticas públicas nas áreas de saúde, educação, saneamento básico e moradia popular.
Prioridade de seu mandato é apresentar projetos que envolvam o desenvolvimento e a preservação da Amazônia. "Pela minha origem e pelo compromisso que assumi com meus eleitores, quero rever as políticas de desenvolvimento para a região. Isso também é lutar contra a onda neoliberal, que acentua o apartheid social."
(Bernardete Toneto e Paulo Lima, pág. 14)Na onda pelo reconhecimento da cultura negra balançam os jovens das periferias das grandes cidades. Com muito axé e movimento, eles se juntam em grupos organizados, cantam e dançam ao som do rap. Um deles é Zinho, líder da Turma do Poder Negro, uma das maiores da periferia Oeste de São Paulo. Aos 18 anos, Zinho está desempregado, como a maioria dos amigos que formam sua "gangue". Para espantar o desencanto, eles passam as noites compondo canções em ritmo forte e sincopado, falando de racismo, violência policial e de líderes negros que sensibilizam a turma, entre eles Zumbi.
Zinho foi expulso da Escola Municipal de Primeiro Grau João Amós, no Jardim Vista Alegre, por atos de vandalismo. Quebrava carteiras, destruía torneiras do banheiro, arrumava arruaça. Fugia das aulas para pixar muros próximos, em protesto contra uma escola ritualista e moralizadora. "Não tinha nada pra fazer na escola. O que eles ensinam lá não significa nada pra minha vida." Assumia atitudes violentas e intimidava a comunidade, que associa os garotos pobres e negros ao tráfico de drogas e à violência.
Um dia, conheceu a professora Maria Stela Graciani, coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Encontrou-se com jovens de outros bairros e de grupos rivais. Em setembro de 94, topou participar de um evento inédito: num sábado, doze grupos organizados da periferia pintaram os muros da escola que antes destruíam. Em vez de palavrões, desenharam símbolos da jovem cultura negra. Com tinta spray, pediram igualdade, oportunidades. No palco montado ao lado do centro comunitário, Zinho se sentiu um astro ao cantar raps que falam de pobreza, violência e do axé negro.
O movimento de jovens rappers é forte também no Parque Santa Madalena, Zona Leste de São Paulo. Os meninos chegam com bermudas largas, camisetas escuras, tênis pretos e o inseparável boné. Todas as quartas e sábados, na sede do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), mais de cinqüenta jovens têm um encontro marcado com o movimento musical afro-americano que aportou no Brasil no começo dos anos 80. Lá, eles refletem, discutem e cantam seus problemas.
Abreviação de rhythm and poetry (ritmo e poesia), o rap surgiu entre os negros jamaicanos, mas ficou famoso nos bairros pobres de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Toninho, um dos jovens negros do Santa Madalena, nega que sua turma esteja apenas seguindo um estilo musical. "Com a nossa música, exigimos aquilo que não temos, doa a quem doer. Nem que formos presos, continuaremos com o nosso tom de denúncia, de crítica."
Entusiasmado, Toninho conta como foi importante para a comunidade o "Rap em festa", um evento idealizado pela meninada em agosto. Para festejar Zumbi, os jovens do Cedeca organizaram um festival. Na primeira semana de inscrição, mais de cinqüenta grupos se acotovelaram por uma vaga. "Fizemos um estudo sério sobre a vida de Zumbi e o Quilombo dos Palmares, vimos filmes, lemos histórias. Depois do festival, teve muita gente que veio aqui procurar informações sobre a luta do povo negro, coisa que não acontecia antes."
No balanço do rap, os jovens se organizam. No Parque Santa Madalena, nasceu o "Cedeca Posse" ("posse" é a união de grupos de rap), que está com a agenda cheia. Recebe freqüentemente convites para shows em escolas, festas paroquiais e quermesses. Dois grupos integrantes, o "Swing Rap" e o "Código Penal", já gravaram discos. A proposta é abrangente: ser uma reunião de grupos musicais onde negros e brancos favelados, mulheres e homens se unam na luta da comunidade.
(Bernardete Toneto e Paulo Lima, pág. 15)Dona Ermelinda dos Santos já nem lembra mais como é acordar tarde. Acha que deve ser bom saltar da cama depois das 5 da manhã. É a essa hora que desperta, lava o rosto em uma bacia de água fria e começa a lida na casa. Antes de pegar no batente, arruma o barraco na favela Jardim Maninos, Zona Norte de São Paulo, faz e serve o café para os dois filhos e a neta, que leva para a escola. Volta, apronta o almoço e começa a caminhada diária de três quilômetros até o bairro da Casa Verde, onde trabalha como empregada doméstica até às 7 da noite.
Desde 93, a negra Ermelinda, de 55 anos, trabalha na mesma casa. Passou quase quinze anos "vivendo como escrava", como ela mesma diz, trabalhando sábados e domingos, sem carteira assinada, por menos de um salário mínimo por mês. Um dia, cansou e reclamou com a patroa. A resposta lhe dói até hoje: "Se não estiver contente, pode ir embora. Estou cansada de ajudar pobre que não reconhece a minha dedicação".
Humilhada, pela primeira vez na vida procurou a ajuda de um advogado, do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo. Na primeira audiência, frente a frente com a ex-patroa, ouviu dela: "Está pensando que é Zumbi?".
Essa foi a primeira e única vez que Ermelinda ouviu o nome do líder negro Zumbi dos Palmares, cujos trezentos anos de morte estão sendo lembrados, com celebrações e protestos, em 1995. Recorda confusamente que, uma vez, a professora de alfabetização da favela contou a história da República dos Palmares. Estava tão cansada que dormiu, assim como dormia na maioria das aulas. Mas, pelo pouco que lembra, Zumbi deve ter sido um cabra bom. Identifica-se com ele, pois acha que o herói brigou pela liberdade da mesma forma que ela defendeu seus direitos trabalhistas. "Esse tal de Zumbi deve ter sido porreta, foi brigador. Eu também gosto de uma boa briga quando diz respeito aos meus direitos."
Ermelinda não sabe se expressar direito. Semi-alfabetizada, é católica e cultua seus santos, como São Benedito, cuja imagem colocou ao lado do filtro díágua. Axé ela não sabe o que é: "Coisa de umbandista, no mínimo". Fica feliz quando descobre que o termo - que designava inicialmente os objetos sagrados dos santos e orixás - é um desejo de paz, uma força mágica que move a resistência dos negros e, na avalanche, tenta levar junto montanhas de preconceitos. "Se é assim, axé pra todo mundo, né?"
(Bernardete Toneto e Paulo Lima, pág. 13)
Para maiores informações, ou para receber os textos completos,
faça contato com:
Colaboração da:
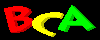 |
Biblioteca Comboniana Afro-brasileira. E-mail: comboni@zumbi.ongba.org.br |